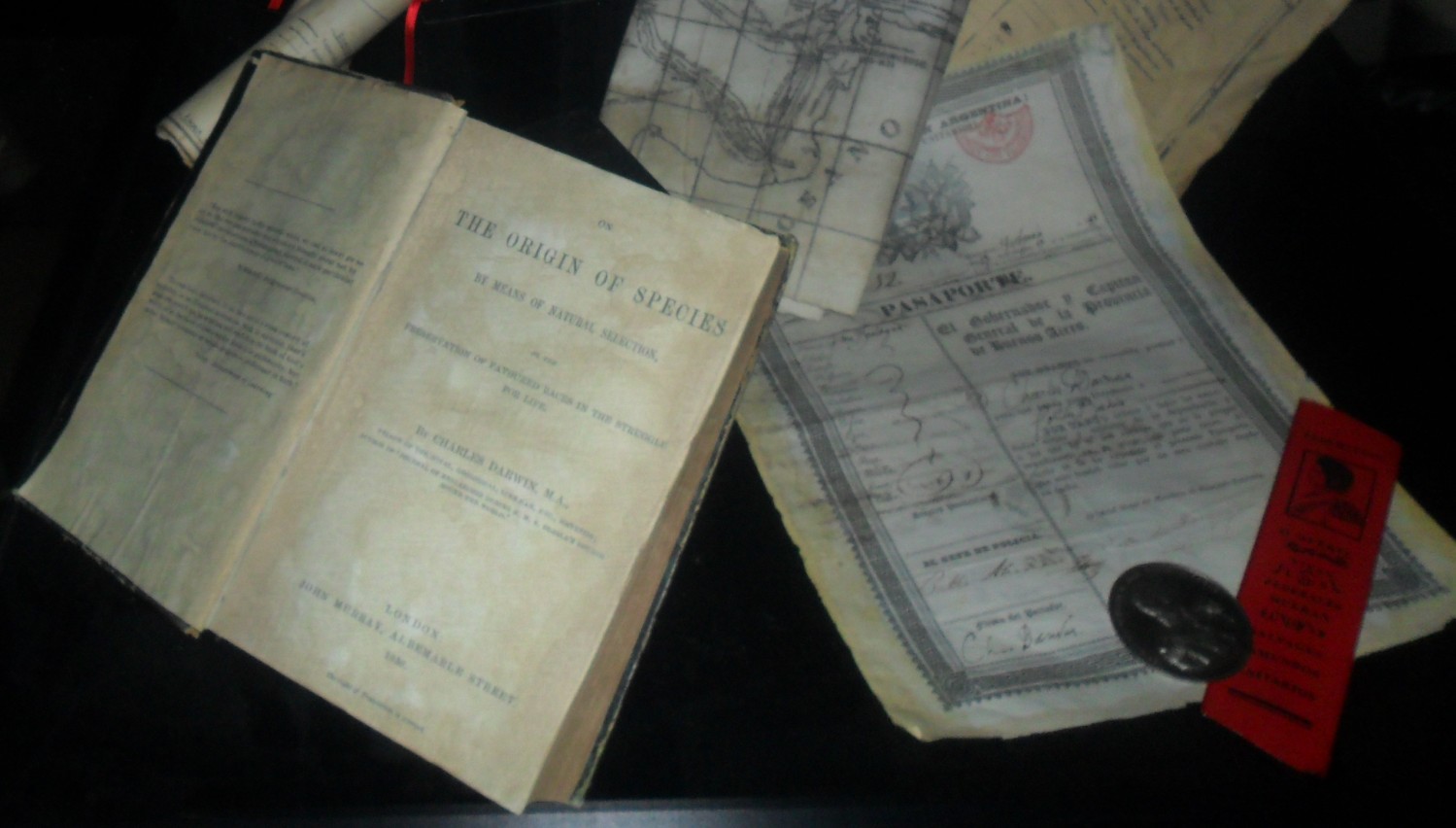Os colégios de meninas no Império Brasileiro
Flavia Pacheco Alves de Souza
No período colonial quase não havia escolas no Brasil, sendo que o ensino era ministrado predominantemente pelos jesuítas. No Rio de Janeiro, desde este período haviam seminários mantidos por ordens religiosas que tiveram um papel importante para a educação dos filhos de famílias ricas, mas que também recebiam meninos de famílias de poucas posses que vislumbravam na carreira religiosa uma possibilidade de ascensão social (CARDOSO, 2003).
Com a chegada da corte portuguesa em 1808 ao Brasil, o Rio de Janeiro tornou-se a nova sede portuguesa e centro de todo o processo político. Por conseguinte, o ambiente cultural da cidade renovou-se; muitos estrangeiros vieram como pesquisadores, naturalistas, professores e médicos, além de educadoras francesas e portuguesas para instruir as crianças da nova elite que estava se formando (CARDOSO, 2003). Porém, o acesso aos estudos continuou prioritário para aqueles que possuíam uma posição na sociedade, situação que só começou a mudar de forma radical em 1820 quando eclodiu em Portugal a Revolução do Porto, cujos ideais liberais começaram a se espalhar também pelas ruas do Rio de Janeiro na forma de manifestações públicas, gerando um clima de intensa efervescência política.
A partir do momento em que o Brasil tornou-se independente de Portugal em 1822, iniciou-se uma preocupação em se construir um sistema nacional de instrução pública como um meio de trazer modernidade ao País, levando a jovem nação a tomar rumos de civilização (XAVIER et al., 1994).
De acordo com Xavier et al. (1994) até a Independência, o país não possuía uma forma organizada de educação escolar; as escolas eram insuficientes e também não possuíam um currículo regular.
A preocupação com uma regularização da educação aparece na Constituição de 1824, conforme excerto extraído de Ribeiro (2000):
“Haverá no Império escolas primárias em cada termo, ginásios em cada comarca, e universidades nos mais apropriados locais.”
A constituição imperial buscava também a gratuidade da instrução primária para todos os cidadãos, como uma das formas de garantir a inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, não havendo uma preocupação da educação como direito e nem como obrigatoriedade aos cidadãos; a educação aparece somente relacionada à cidadania (HORTA, 1998).
Em 1826 o Decreto Imperial institui quatro graus de instrução educacionais: Pedagogias (escolas primárias), Liceus, Ginásios e Academias. No ano seguinte, um projeto de lei propõe a criação de pedagogias em todas as cidades e vilas, além de prever o exame na seleção de professores, para nomeação. Nessa mesma legislação, Dom Pedro I relatou sobre o acesso das mulheres à escola:
(…)
Art. 11. Haverão escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas, em que os Presidentes em Conselho, julgarem necessário este estabelecimento. Art. 12. As Mestras, além do declarado no Art. 6º, com exclusão das noções de geometria e limitado a instrução de aritmética só as suas quatro operações, ensinarão também as prendas que servem à economia doméstica; e serão nomeadas pelos Presidentes em Conselho, aquelas mulheres, que sendo brasileiras e de reconhecida honestidade, se mostrarem com mais conhecimento nos exames feitos na forma do Art. 7º.”
Apesar de a legislação prever estas escolas para meninas, na prática apenas as meninas pertencentes às camadas superiores e médias recebiam em graus variados uma educação doméstica, ao passo que nas camadas populares nem se cogitava a instrução das mulheres (XAVIER et al., 1994).
Nísia Floresta foi uma das primeiras brasileiras a ter um colégio no país e exclusivo para meninas, um feito notável visto que as instituições geralmente eram regidas por mulheres estrangeiras, principalmente francesas, como os colégios de Mrs. Wilfords, mme. Louise Halbout, mme. Mallet, a baronesa de Geslin, Mrs. Hitchings, mme. Lacombe, Mme. Carolina Hoffmann e mme. Tanière. (DUARTE, 2010)
Seu colégio, denominado Colégio Augusto em homenagem a um companheiro desaparecido, funcionou durante 17 anos no Rio de Janeiro, inicialmente na Rua Direita nº 163, sendo posteriormente transferido para a Rua D. Manuel nº 20, com entrada pela Travessa do Paço, nº 23, em frente ao Palácio da Justiça.
O jornal do Comércio de 31 de janeiro de 1838 anunciou a chegada do novo colégio, conforme transcrição abaixo:
“D. Nísia Floresta Brasileira Augusta tem a honra de participar ao respeitável público que ela pretende abrir no dia 15 de fevereiro próximo, na Rua Direita nº 163, um colégio de educação para meninas, no qual, além de ler, escrever, contar, coser, bordar, marcar e tudo o mais que toca à educação doméstica de uma menina, ensinar-se-á a gramática da língua nacional por um método fácil, o francês, o italiano, e os princípios mais gerais da geografia. Haverão igualmente neste colégio mestres de música e dança. Recebem-se alunas internas e externas. A diretora, que há quatro anos se emprega nesta ocupação, dispensa-se de entreter o respeitável público com promessas de zelo, assiduidade e aplicação no desempenho dos seus deveres, aguardando ocasião em que possa praticamente mostrar aos pais de família que a honrarem com a sua confiança, pelos prontos progressos de suas filhas, que ela não é indigna da árdua tarefa que sobre si toma. (…)”
(DUARTE, 1995)
Porém, a história do colégio Augusto sempre recebeu severas críticas de jornalistas, exemplo do publicado no jornal O Mercantil, de 2 de janeiro de 1847 (DUARTE, 1995), comentando acerca dos exames finais em que várias alunas haviam sido premiadas com distinção:
“… trabalhos de língua não faltaram; os de agulha ficaram no escuro. Os maridos precisam de mulher que trabalhe mais e fale menos”.
A proposta curricular de Nísia para o colégio Augusto era considerada inadequada, rendendo opiniões negativas nos jornais cariocas, fato que não nos causa estranhamento, pois na concepção da sociedade imperial não havia motivo para dar à mulher educação semelhante à masculina, visto que os papéis de ambos os gêneros na sociedade eram distintos cabendo à mulher o papel social da ‘maternidade’.
De acordo com Duarte (1995), a educação feminina no período imperial baseava-se em aquisição de conhecimentos para a realização dos serviços domésticos com eficácia, visto que as meninas que freqüentavam os colégios geralmente ao completarem 13 ou 14 anos eram tiradas pelos pais, pois já estavam aptas ao ‘casamento’.
Para Nísia a educação era a peça fundamental para o desenvolvimento da sociedade a partir do momento em que a mulher também fosse inclusa na vida pública, uma vez que era esta quem criava e educava os ‘meninos’, futuros médicos, juízes e governantes do País. Ora, se a mulher tinha este papel tão fundamental e necessário porque então afastá-la da vida pública poupando-lhe a educação? (FLORESTA, 1989)
Referências bibliográficas:
CARDOSO, T. F. L. A construção da escola pública no Rio de Janeiro imperial. Revista brasileira de história da educação. Vitória, n. 5, p. 195-211, jan./jun., 2003.
DUARTE, C. L. (org.) Nísia Floresta. Recife: Massangana, 2010.
FLORESTA, N. Opúsculo Humanitário. São Paulo: Editora Cortez, 1989.
HORTA, J. S. B. Direito à educação e obrigatoriedade escolar. Caderno de Pesquisa da Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, n. 104, p. 5-34, 1998.
RIBEIRO, M. L. S. História da educação brasileira: a organização escolar. Campinas: Autores Associados, 2000.
XAVIER, M. E. S. P. et al. História da Educação: a escola no Brasil. São Paulo: Editora FTD, 1994.